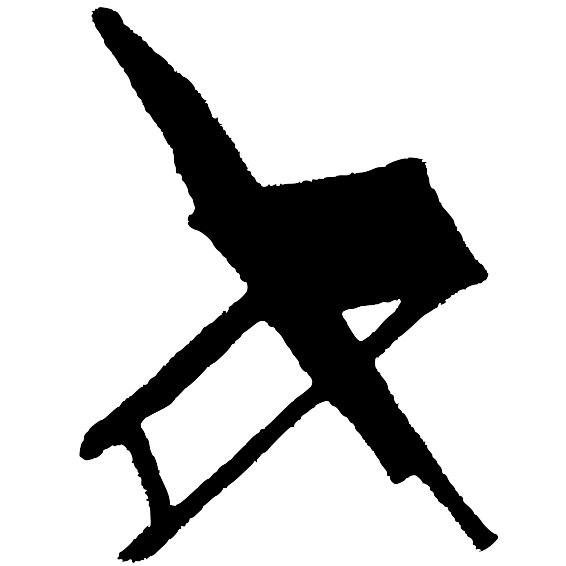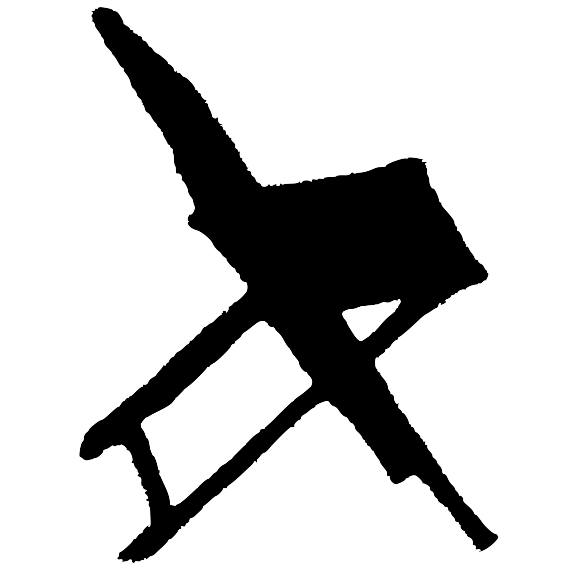Uma crítica de corpos em assembleia
Colóquio Butler XXI: Performatividade, Guerra, Vidas Precárias
14 de maio de 2018, Escola de Humanidades, PUCRS
Ítalo Alves, PPG Filosofia PUCRS
italo.alves@acad.pucrs.br
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, quero tentar fazer duas coisas. A primeira delas envolve explicar com que tipo de questão Butler está discutindo em seu livro Corpos em Aliança e a Política das Ruas, originalmente de 2015 e publicado em 2018 no Brasil. Quero tentar oferecer uma espécie de genealogia da categoria “performance” que considere especialmente seu desenvolvimento no campo das ciências sociais. COm isso, quero tentar mostrar que Butler se alinha a uma tradição que busca desnaturalizar as práticas humanas, e trazê-las ao campo da experimentação e da transformação. Para fazer isso, passo um pouco pela história da metáfora teatral até chegar na sociologia do século XX, onde discuto os conceitos de “quadro” e de “técnica”, atribuídos, respectivamente, aos sociólogos Erving Goffman e Marcel Mauss. Buscando situar o trabalho da Butler dentro dessa história da metáfora cênica. Por último, questiono as possibilidades críticas que o trabalho da autora nos fornece.
HISTÓRIA DA METÁFORA TEATRAL
A ideia de que “o mundo é um palco” no qual “todos somos atores”, que talvez remonte mais obviamente a Como gostais, de Shakespeare, é uma metáfora conhecida para a vida humana em sociedade – talvez até um clichê. A história da analogia teatral aplicada à vida social não é nova, e pode ser traçada pelo menos até Platão, que fazia uso constante de metáforas cênicas. Sócrates fala, por exemplo, em Filebo, que os prazeres e as dores andam sempre associados “nas tragédias e nas comédias, e não apenas no teatro como também na comédia e na tragédia da vida humana” (Platão, 2018, p. 56).
A identificação da ação cênica com o agir no mundo ficaria ainda mais clara em escritores gregos e latinos posteriores. É do Satíricon, de Petrônio, a conhecida frase “totus mundus agit histrionem” (“o mundo todo age performativamente”, numa tradução própria e bastante livre. Histrionem vem de histrio, um ator, geralmente cômico, do teatro romano – de onde o nosso histrião) – essa é a frase que teria inspirado Shakespeare em seu teatro, o Globe Theatre, que, reza a lenda, tinha essa frase escrita na parede.
Até o século XV, a metáfora do Theatrum Mundi, o teatro do mundo como símbolo da vida humana, já teria se tornado lugar-comum, presente tanto no próprio teatro em sua forma renascente quanto na literatura e nas artes. E é com Shakespeare que a metáfora adquire prioridade. Shakespeare está ciente da natureza artificial do comportamento, dentro e fora do palco. O discurso do cavaleiro Jacques em Como gostais talvez seja o representante mais conhecido dessa ideia. No monólogo da cena sete do segundo ato, Jacques discorre sobre as sete idades do homem – criança, garoto, apaixonado, soldado, justo, velho e moribundo – e inicia com o bordão:
O mundo inteiro é um palco,
E todos os homens e mulheres são meros atores:
Eles têm suas saídas e suas entradas;
E um homem cumpre em seu tempo muitos papéis. (Shakespeare, 2009)
Essa é uma ideia que vai se repetir em muitas das peças de Shakespeare, como em Macbeth, e ainda em O mercador de Veneza. Shakespeare é capaz de apresentar dramaturgicamente a teatralidade da vida. E isso porque estava envolto por uma sociedade teatralizada. Uma mesma sociedade que tornaria possível que Hume, por exemplo, falasse da mente, no Tratado sobre a natureza humana, como “um tipo de teatro, onde várias percepções aparecem sucessivamente” (Hume, 1896, livro I, parte IV, seção VI, grifo nosso). O período barroco é comumente definido como teatral – isso não só no teatro, mas na literatura, na poesia e também na pintura. A linguagem da atuação, de cenários, de públicos, de enredos, aplicava-se a todos os domínios da vida – da metafísica à moralidade, à pintura e à escultura.
Embora o uso da analogia teatral não seja particularmente novo, o interesse sociológico sobre a relação entre sociedade e teatralidade, ou performance, pode ser apontado como próprio ao século XX. A retomada do tema, agora em nível teórico-reflexivo, se deu principalmente com o léxico não da teatralidade, mas da performance, ou da performatividade. Parte disso porque boa parte dos estudos se concentrou nos Estados Unidos, e na língua inglesa o vocábulo performance tem um escopo semântico mais amplo do que theater, e portanto dá conta de uma gama maior de fenômenos comportamentais.
GOFFMAN
No campo das Ciências Sociais, é de importância o trabalho sobre interacionismo simbólico, corrente teórica estadunidense cuja origem é normalmente identificada nos trabalhos de George Herbert Mead e John Dewey. Desse grupo, destaca-se o sociólogo Erving Goffman, sobretudo com seu A Representação do Eu na Vida Quotidiana (1959). Nesta obra, Goffman analisa a forma como indivíduos buscam, num contexto de interação interindividual, controlar as variáveis da percepção de suas ações de forma a causarem em seus interlocutores uma impressão desejada. Segundo Goffman, “quando um indivíduo aparece perante outros indivíduos, ele possui vários motivos para tentar controlar a impressão que estes recebem da situação” (1956, p. 8).
Essa “atividade de um dado participante em uma dada ocasião que busca influenciar de qualquer forma os outros participantes” é como Goffman define a performance. (1959, p. 9) No decorrer de A Representação do Eu…, Goffman detalha o funcionamento da performance em interações cara-a-cara, do tipo que ocorrem normalmente em escolas, escritórios, prédios públicos etc. Os termos usados são os mesmos das artes cênicas: ator, performance, público, papel, cenário. O que subjaz à análise é a ideia de que agentes, num contexto de interação interindividual, reconhecem a existência de expectativas de comportamento, por parte de seu “público”, e buscam controlar as variáveis de seu próprio comportamento de forma a causar nele (o público) uma impressão esperada. Na vida quotidiana, a performance individual, a forma como um “ator” interpreta um “papel”, possui a capacidade de alterar o conteúdo discursivo que esse papel venha a ter.
Goffman era um profundo observador da vida social em seu aspecto mais micrológico, em todos os processos de aprendizado, negociação e luta que envolvem atividades tão banais quanto caminhar, sentar, amarrar o cadarço do sapato, levar a colher à boca, e aí por diante.
A obra de Goffman é sintetizada em seu livro mais sistemático, Frame Analysis, publicado em 1974 e traduzido em português como Os Quadros da Experiência Social. É daí que vem o primeiro termo do título da minha apresentação, o de “quadro”. Para Goffman, um quadro é uma metáfora para explicar o “contexto”, ou “pano de fundo”, que sustenta todas as regras e princípios – explícitos ou implícitos – que governam a interação social. Por exemplo, neste contexto que nós estamos agora há alguns quadros – poderíamos dizer, quadros normativos – que criam algumas expectativas de comportamento, que podem ou não ser cumpridas. E que podem também ser negociadas, discutidas, enfim. Por exemplo: espera-se que enquanto eu fale ninguém mais esteja falando ao mesmo tempo. Espera-se que meu telefone esteja desligado – tanto que, se ele tocar agora, vai criar algum tipo de incômodo. E coisas mais banais até: há uma expectativa sobre que tipo de roupa que eu devo estar vestindo aqui. Se eu estivesse vestindo apenas uma sunga, por exemplo, ou mesmo uma bermuda, eu estaria no mínimo provocando esse quadro, ou mesmo entrando em confronto com ele.
Apesar de ter se desenvolvido na Universidade de Chicago, influenciado pela sociologia de Simmel e de Mead, Goffman foi também pesadamente influenciado pela macrossociologia de Durkheim, que ele acabou absorvendo através do funcionalismo da antropologia social inglesa. Apesar de não estar tão interessado em maiores instituições sociais, Goffman era bastante ciente de que havia instituições fortes e operantes no longo prazo que regulavam de forma desigual os recursos da interação – poder, prestígio, habilidade social, por exemplo (Frame Analysis, Foreword, p. xv).
MAUSS
Durkheim, falando nele, parece ser a conexão que liga Goffman a um outro sociólogo que estava, na mesma época, pensando coisas muito parecidas. Falamos de Marcel Mauss, sociólogo e antropólogo francês sobrinho de Durkheim. Em um ensaio publicado em 1935, Mauss desenvolve o conceito de técnicas do corpo, responsável pelo segundo termo do título desta apresentação. Com essa expressão, Mauss introduz uma discussão sobre “as formas em que as pessoas aprendem a usar os seus corpos através da história das sociedades”. Segundo Mauss, há elementos culturais que moldam as formas mais básicas da vida, como andar, nadar, comer etc. Os franceses caminham com uma marcha diferente dos americanos, que caminham com uma marcha dos brasileiros, por exemplo.
Mauss está preocupado menos com as negociações possivelmente problemáticas de sujeitos em interação social, e mais com os próprios processos de aprendizado dessas técnicas. Esse foco está na própria definição de técnica – e aqui eu o cito: “Eu chamo de técnica uma ação que é efetiva e tradicional (e você verá que com isso não há nenhuma diferença para entre uma ação mágica, religiosa ou simbólica). Ela tem que ser efetiva e tradicional. Não há técnica e não há transmissão na ausência da tradição” (Mauss, 1973, p. 75). Pro Mauss, nós humanos imitamos ações que aconteceram e que nós vimos ser desempenhadas com sucesso por pessoas em quem confiamos e que têm alguma autoridade sobre nós. Esse tipo de processo de aprendizado consiste na imposição externa de determinados roteiros de ação, e isso inclui até mesmo, segundo ele, funções biológicas que nós poderíamos achar tão básicas e “naturais”, como a de andar, seu primeiro e mais fundamental exemplo.
Segundo Mauss, não há uma “forma natural” de andar. O fato de que usamos calçados, por exemplo, já nos faz caminhar de uma forma diferente daquela sem calçados; ou o uso de um tipo de calçado faz com que caminhemos de forma diferente daquela com que caminharíamos com outro calçado. Mas não é porque tem um calçado envolvido que falamos de técnica. Homens, em geral, por exemplo, aprendem a caminhar de um jeito, enquanto mulheres aprendem a caminhar de outro. Quer dizer: aqui não há nenhuma ferramenta envolvida, que é um elemento que normalmente esperamos quando falamos de técnica, mas mesmo assim há um processo de aprendizado tradicional e efetivo.
Um argumento semelhante é levantado, mais recentemente, por Iris Young, num ensaio de 1980 chamado Arremessando Como Uma Garota [Throwing Like a Girl], em que desenvolve o argumento de que as diferenças corporais entre homens e mulheres estão menos ligadas a qualquer tipo de “natureza” feminina ou masculina e muito mais à forma como homens e mulheres são ensinados a usar seus corpos. Diz Young: “Muitas das diferenças observadas entre homens e mulheres ao desempenharem tarefas que exijam força e coordenação são devidas não tanto à força muscular bruta, mas à forma como cada sexo usa o corpo nas tarefas apropriadas” (1980, p. 142).
(Voltando) Mauss, tratando desse aprendizado de técnicas, fala em técnicas obstétricas; técnicas da infância, como a da alimentação do bebê; técnicas da adolescência; técnicas da vida adulta, que incluem técnicas do sono, do descanso, do movimento, do sexo… E conclui que, em todo lugar, a cada momento, nos deparamos com conjuntos fisio-psico-sociais de séries de ações, e que essas ações são mais ou menos habituais e mais ou menos ancestrais tanto na vida do indivíduo quanto na história da sociedade.
* * *
O que está em jogo, tanto em Goffman quando em Mauss, é a ideia de que as práticas humanas em sociedade não são de nenhuma forma “dadas”, de maneira naturalista, e que, além disso, possuem uma história mais ou menos traçável, com características próximas à da investigação semiológica. Em suma, o campo das práticas sociais humanas é “desnaturalizado”. E ao fazerem isso, me parece, essas duas tradições de pesquisa sociológica estão abrindo flancos para que seja possível, além de estudarmos genealogicamente as práticas humanas, intervirmos criticamente nelas – ou seja, não só entendermos as práticas que estão em operação com a nossa ação no mundo, mas também moldá-las. Veremos como parece aparecer em seguida, com os usos políticos da performance, alguma reminiscência da 11ª tese de Marx sobre Feuerbach: os filósofos até agora têm apenas interpretado as performances; a questão seria é transformá-las.
PERFORMANCE STUDIES
A breve genealogia que estou apresentando aqui não informa diretamente o trabalho de Butler, e inclusive não é reconhecida expressamente por ela. A performance tem muitas histórias, e estou procurando salientar especificamente aquela em que a categoria é usada como ferramenta das ciências sociais. Há uma outra genealogia possível da performance, essa mencionada explicitamente por Butler, mais vinculada à filosofia da linguagem. Ela começaria nos anos 1960 com o trabalho de J.L. Austin, filósofo da linguagem que cunhou o termo “enunciações performativas” para descrever um tipo de oração que não é descritiva (“esta cadeira é preta”, ou “eu estou com fome”), mas, na terminologia dele, performativa. É um tipo de frase que não descreve, não relata e nem afirma nada, mas que, de fato, faz alguma coisa [exemplos casamento e batizado de navio]. Essa história passa depois por Derrida, Bourdieu e mais recentemente por Eve Sedgwick, para citar alguns.
Apesar do uso da categoria “performance” e “performatividade” em diversos campos, é nos anos 1980 que os estudos sobre performance se consolidarão enquanto área, principalmente com os trabalhos de Richard Schechner, nos Estados Unidos, que tinha como preocupação ou objeto a performance-arte, esse novo meio artístico que surgia com a arte contemporânea americana nos anos 1960. Schechner é possivelmente o responsável pela popularização do termo “performance” nas ciências humanas para além dos departamentos de teatro. Teve como influências iniciais a sociologia de Goffman a história cultural de Huizinga, e foi se aproximando progressivamente da antropologia, sobretudo de Victor Turner e Clifford Geertz (Carlson, 1996, p. 21-22).
BUTLER
Nos anos 1990 acontece uma certa aproximação entre a literatura sobre performance e aquela sobre o pós-moderno. A performance passa a ser vista como o meio próprio de uma arte do pós-moderno e ao mesmo tempo como campo de resistência a uma colonização total da mente e dos discursos pela fase tardia do capitalismo. A investigação teórica sobre a performance enquanto instrumento de resistência ou transformação, isto é, a função propriamente política da performance, num sentido mais estrito, começa também a se manifestar nos anos 1990, articulada principalmente por grupos culturais marginais – mulheres, gays, negros, latinos etc., e amparada pelas teorias feministas, queer e decoloniais. Butler talvez seja a autora que mais tenha popularizado o conceito de performance na filosofia desde os anos 1990. Ela se vale do conceito, bastante vinculado à ideia de performance linguística, pelo menos no começo, para demonstrar como os discursos são capazes de construir identidades – no caso de suas preocupações particulares, de construir o gênero (Gender Trouble, 1990) e grupos políticos (Notes, 2015).
Quando aplica teorias da performatividade à atividade política, Butler parece nos fornecer ferramentas interessantes para começar a avaliar os aspectos não discursivos da ação política e como eles afetam e interferem na moldagem e fundamentação de diferentes ordens políticas. Em Notas para uma teoria performativa de assembleia (2015), Butler chama a atenção para o retorno do interesse no aspecto formal de assembleias públicas – novas formas de organização política em que coletivos questionam a legitimidade de configurações democráticas dadas, reivindicando para si uma legitimidade que está distante das formas deliberativas de uma democracia liberal com a qual a gente está acostumado. Em casos como o Movimento Occupy ou os protestos da Praça Tahrir, está em jogo, para Butler, uma disputa performativa sobre o estabelecimento de novas formas de poder. Os significados políticos em jogo não estão mais, ou apenas, no discurso, mas também na própria concertação de corpos:
Ações incorporadas [embodied actions] de vários tipos possuem significado de formas que não são, estritamente falando, nem discursivas nem pré-discursivas. Em outras palavras, formas de assembleia já possuem significado antes e independentemente das demandas que fazem. Encontros silenciosos, incluindo vigílias ou funerais, frequentemente possuem significados que excedem qualquer explicação particular escrita ou vocalizada do que eles dizem respeito (Butler, 2015, p. 8).
A tarefa de Butler passa a ser a de identificar, na assembleia pública de corpos, o exercício performativo de uma atividade propriamente política, de apresentação do que nós poderíamos chamar de reivindicações normativas: explicitações de demandas de grupos políticos no espaço público.
O conceito de “assembleia” servirá a Butler para se contrapor tanto a modelos identitários (em termos ontológicos e políticos) quanto a modelos liberais. Assembleia, para ela, é um conceito totalizante. Nós formamos assembleias com nós mesmos, por exemplo. Em assembleias públicas, diz Butler, corpos se congregam, andam e falam juntos. E reivindicam um certo espaço como espaço público. A gente se enganaria se achasse que esses corpos se encontram “automaticamente” num espaço que já é público. Pelo contrário, a própria concertação de corpos produz o caráter público dos espaços, põe eles em disputa. Butler se baseia em Hannah Arendt para defender que a política é um espaço das aparências, no sentido de mostrar, aparecer. Ainda, ou melhor, que o próprio espaço do político é criado através desse aparecimento. O suporte material da ação, nas palavras de Butler, não é apenas parte da ação, mas também aquilo pelo que se luta, aquilo que se reivindica. E esse é especialmente o caso quando as lutas são por comida, emprego, transporte público – suportes humanos dos mais básicos.
Uma das categorias centrais de Arendt é a do direito a ter direitos. Esse direito a ter direitos, um elemento fundamental da vida política, quase que por definição não pode estar dentro das instituições democráticas, porque é ele mesmo que garante a existência dessas instituições. O direito a ter direitos precede qualquer organização política já dada. A conclusão de Butler é que esse direito, portanto, é fundamentalmente performativo – não existe se não for ativamente exercido, encenado, performado.
Assa ação não é só discursiva – não tem só a ver com o que se grita nas palavras de ordem, por exemplo, mas como se grita. Isto é, há demandas trazidas pela própria ação corporal, pelos gestos e movimentos, pela congregação de corpos, pela exposição à violência policial, por exemplo. Essa valorização que Butler faz dos aspectos corporais, performativos, da ação política, se insere numa história de críticas à preferência e à importância dadas pela democracia liberal ao discurso, à deliberação, ao diálogo, à resolução pacífica dos conflitos, que muitas vezes encobrem uma série de exclusões sistêmicas. O foco no discurso e na deliberação deixariam de fora, segundo essa visão, aquelas pessoas e grupos que não se adequam às exigências dos espaços deliberativos.
Esse tipo de visão, que enxerga política apenas nessa racionalidade discursiva, desconhece ou desvaloriza aquelas formas de agência política que aparecem justamente em âmbitos considerados pré-políticos, ou extra-políticos, e que quando chegam nessa esfera de aparências são tidos por completamente estranhos, alienígenas.
Quando o corpo “fala” politicamente, não é apenas na linguagem vocal ou escrita. A persistência do corpo na sua exposição coloca essa legitimidade em questão, e o faz precisamente por meio de uma performatividade específica do corpo. Tanto a ação quanto o gesto significam e falam, tanto como ação quanto como reivindicação; um não pode ser finalmente separado do outro. [… A]s reivindicações políticas são feitas pelos corpos quando eles aparecem e agem, quando recusam e persistem (Butler, 2018, p. 92–93).
Mais do que o resultado de um procedimento argumentativo justo, está em questão, para Butler, a capacidade que os corpos possuem, quando em assembleia, de reivindicar plataformas, levantar demandas, e reconfigurar o espaço político em si.
CRÍTICAS
Dito tudo isso, gostaria de me voltar brevemente a uma questão sobre o trabalho da Butler que diz respeito à possibilidade de usarmos criticamente esse aparato conceitual. Isto é – olhar para a performatividade do agir político nos instruiria de alguma forma a dizer que certas práticas são melhores do que outras? Ou que certas práticas devem ser preferidas a outras?
Eu fiz um exercício de consultar o livro buscando especificamente ocasiões em que Butler levanta hipóteses contrárias à sua, ou se questiona como se daria uma tal atenção aos aspectos performativos de assembleias públicas quando essas assembleias públicas não necessariamente avançam motivos ou reivindicações de cunho progressista, emancipatório etc. Durante o livro inteiro ela dá exemplos de grupos, de assembleias públicas reais, que de fato aconteceram. Os exemplos que ela usa incluem as manifestações de Seattle, em 1999, contra a Organização Mundial do Comércio, os sit-ins, ou ocupações, no Parque Zucotti, em Nova York, do movimento Occupy Wall Street, e as manifestações na Praça Tahrir, na cidade do Cairo, que dispararam o que se chamou de Revolução Egípcia em 2011. Esses exemplos – de forma geral ou mencionando episódios específicos de cada um deles – aparecem de forma recorrente na argumentação de Butler. Butler tem uma visão muito positiva desses episódios de agrupamento de corpos em sua capacidade transformadora. Butler aqui parece partilhar de uma crença que foi forte pelo menos até o início dos anos 2000 – e que aparece, num exemplo muito próximo, em eventos como o Fórum Social Mundial – que é a de que os movimentos sociais seriam veículos, ou, mais do que isso, os veículos, da emancipação social, da libertação dos povos .Butler fala sobre a “persistência” de grupos que se juntam nas ruas; de sua capacidade de mostrar que uma dada situação é compartilhada. Vê nesses agrupamentos chamados por justiça, por uma “vida vivível”, denúncias à precariedade. Um movimento que talvez não antevia que os movimentos sociais também poderiam ter um caráter regressivo, não-popular, ou mesmo reacionário.
O exercício que eu me propus, então, foi de ler o livro pensando: e será que nós não poderíamos dizer o mesmo – isto é, que são assembleias onde grupos sentem o compartilhamento de sua demanda por superação de um sofrimento ou de uma situação de precariedade – de manifestações como as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, que ocorreram no Brasil em 1964 contra a assim chamada ameaça comunista que justificaria o golpe de estado daquele ano? Será que não poderíamos dizer o mesmo dos protestos de 2015 e 2016, que pediam o impeachment da então Presidenta Dilma Rousseff? Ainda, será que não poderíamos dizer o mesmo da manifestação “Unir a Direita” [em inglês, Unite the Right], que aconteceu em 2017 na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, reunindo supremacistas brancos, nacionalistas brancos, neo-confederados, neonazistas, milícias e membros da alt-right carregando rifles, suásticas, bandeiras confederadas e bandeiras antissemitas? Será que eles não seriam também bons exemplos de assembleias públicas com demandas por justiça performativamente enunciadas?
Pra ser honesto, essa pergunta não é inteiramente minha. Naquele exercício que eu fiz de identificar instâncias em que Butler trataria de exemplos que não estivessem tão obviamente dentro de um campo progressista, consegui identificar duas passagens em que ela trata de, digamos, contra-exemplos. Peço licença para citar um deles:
Considerando, por exemplo, as gangues racistas e os ataques violentos, não posso dizer que toda reunião de corpos nas ruas seja uma boa coisa, ou que devamos celebrar as manifestações de massa ou que corpos reunidos em assembleia formam certo ideal de comunidade ou mesmo uma nova política digna de louvor. Embora algumas vezes os corpos reunidos nas ruas sejam claramente motivo de alegria e até esperança – e a reunião de multidões às vezes de fato se torna ocasião para esperança revolucionária –, precisamos lembrar que a frase ‘corpos nas ruas’ pode se referir, do mesmo modo, a manifestações da direita, a soldados militares armados para reprimir manifestações ou tomar o poder, a grupos de linchamento ou a movimentos populistas anti-imigração que ocupam o espaço público. Sendo assim, as assembleias não são intrinsecamente boas nem intrinsecamente ruins, mas assumem valores diferentes, dependendo do motivo pelo qual se reúnem e de como essa reunião funciona. Ainda assim, a ideia de corpos juntos nas ruas deixa as pessoas de esquerda entusiasmadas, pois é como se o poder estivesse sendo tomado, retomado, assumido e incorporado de uma maneira que prenuncia a democracia” (2018, p. 138).
Um argumento desse tipo, que joga todo o ônus argumentativo para o contexto, não correria o risco de soar muito vago? Ou de, na melhor das hipóteses, não nos ajudar a resolver nada? São questões não respondidas, que estão abertas à interpretação, análise e disputa. E são questões, aliás, que exemplificam alguns dos motivos pelos quais a pesquisa em filosofia deve poder continuar existindo.