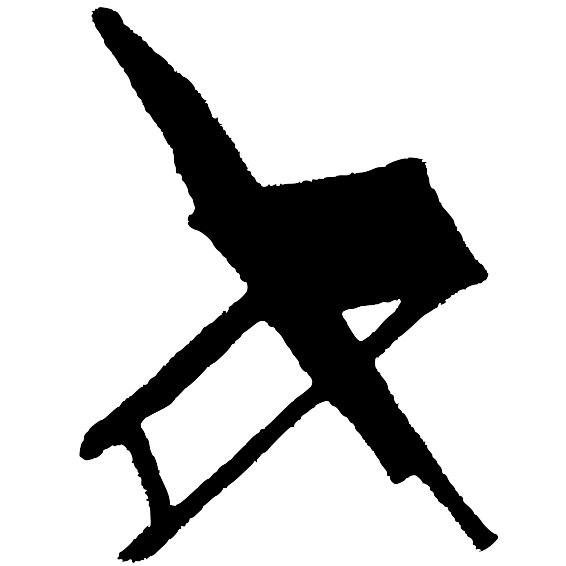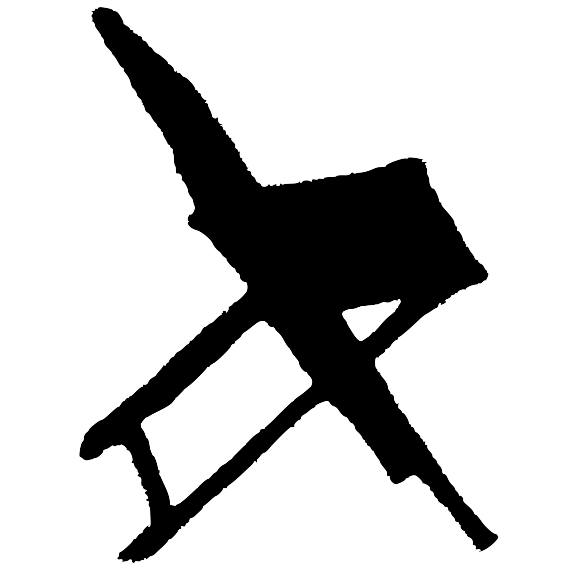Acho desnecessário introduzir minuciosamente Cinema Paradiso. É um filme muitíssimo conhecido, italiano, de 1988, lançado em 1990 no Brasil. Quando foi lançado não despertou maiores interesses, mas acabou se tornando sucesso de público e crítica quando começou a circular internacionalmente. Então, apenas para situar do que nos estamos falando: o filme trata da história da amizade de Toto (Salvattore) com Alfredo, o projecionista de uma sala de cinema chamada Cinema Paradiso, que fica na pequena cidade de Giancaldo.
Há alguns elementos do filme que são centrais para que ele funcione. Talvez o principal deles seja o fato dele ser um filme sobre filmes – um filme sobre cinema e sobre uma relação de amor com o cinema. Isso normalmente pega bem para pessoas que gostam de cinema e eu acho que talvez não tenha sido mera coincidência a escolha desse filme para ser comentado aqui. Esse filme foi vencedor de um Oscar. E eu acho que, nesse sentido, ele lembra um pouco, está próximo simbolicamente daquilo que foi La La Land, que também flerta com a história do cinema e pegou bem na Academia, a instituição que concede o Oscar nos Estados Unidos, né.
Mas não é exatamente disso que eu quero falar. Há vários elementos interessantes nesse filme, vários elementos que fazem com que ele seja um filme muito querido, muito aprazível e muito bem quisto, e que tenha se tornado um clássico, mesmo sendo um filme relativamente recente, um filme de 1988. Então eu gostaria de enumerar alguns desses elementos, só para fazer um primeiro reconhecimento de campo.
Primeiro: esse filme é um filme de nostalgia. Ele entra dentro dessa categoria que é a de cinema de nostalgia. São vários motivos que levam a isso e é esse elemento específico que eu gostaria de explorar um pouco com vocês – o elemento nostálgico dele. E eu gostaria de defender aqui, brevemente, e abrir pra gente conversar depois, que essa nostalgia de Cinema Paradiso faz com que Cinema Paradiso seja um representante de um espírito de época – que é ali do final dos anos 1980 – que é uma manifestação de uma impossibilidade de olhar para o futuro; uma impossibilidade de pensar o futuro. A ideia um pouco à la Fukuyama de que, com a queda do muro de Berlim, com o fim do bloco Soviético, a história acabou. Não há mais história, não há mais muito conflito, a democracia liberal venceu a batalha com o comunismo, e aí por diante.
E esse momento teria nos deixado numa situação dúplice: a gente é incapaz de pensar o futuro – incapaz de qualquer pensamento de tipo prospectivo; e ao mesmo tempo a gente é forçado a recuperar sempre o passado, e a _querer_recuperar sempre o passado como única forma de “agir no mundo”, o que se dá tanto esteticamente, quanto politicamente, quanto na vida quotidiana etc.
Tem um elemento muito interessante desse filme que é a trilha sonora dele, que é uma trilha sonora muito típica desse gênero de cinema-nostalgia, cinema nostálgico, que são sempre trilhas sonoras orquestrais e grandiosas, e sempre com composições muito melodramáticas. Nesse caso a trilha sonora é especialmente conhecida, e foi uma trilha que conseguiu praticamente se descolar do filme. Tem discos e mais discos com a trilha de Cinema Paradiso (de autoria do Ennio Morricone), algumas interpretadas pelo Yo-Yo Ma, o violinista etc. Digo isso para apontar que a trilha de melodrama é essencial para o que Cinema Paradiso apresenta, tem um papel central no filme.
Mas o que eu gostaria de explorar um pouco aqui é – não tanto fazer crítica do filme, crítica de cinema – mas explorar um pouco o que em Cinema Paradiso é capaz de nos apontar para elementos sociais interessantes. A ideia é como elementos estéticos que estão presentes numa obra de arte, neste caso cinematográfica, são capazes de nos instruir filosoficamente, socialmente [não é Arnold Hauser, é Carlo Ginzburg]. E para isso eu gostaria de focar num aspecto muito específico de Cinema Paradiso, e para chegar nele eu vou fazer uma pequena reconstrução.
O filme tem basicamente três momentos de tensão, de crise, ou momentos trágicos. Não sei se vocês concordam, mas para a análise que eu estou propondo os que importam são os seguintes. Primeiro, o incêndio no Cinema Paradiso, que deixa o Alfredo cego. Aí a gente tem o primeiro momento de tensão, primeira tragédia, que acontece mais ou menos na metade do filme. O Cinema Paradiso é então reconstruído, nessa pequena cidade, e aí a gente faz um _flash forward_para o final do filme, onde a gente tem outros dois momentos trágicos – que são basicamente dois momentos em um, ou a duplicação do mesmo momento. O primeiro é a morte do Alfredo, e o segundo é, finalmente, a destruição do prédio do novo Cinema Paradiso. E eu gostaria de focar – eu acho extremamente sintomático, simbólico, este último momento de tragédia, que é o da destruição do prédio do Cinema Paradiso. Porque, se vocês lembram no filme, eles dizem que o prédio do Cinema Paradiso vai ser destruído para que seja construído um ESTACIONAMENTO no lugar. Não qualquer outra coisa, mas um estacionamento.
Há coisas interessantes acontecendo aqui. Eu acho que, em primeiro lugar – e aqui, com esse elemento da história, com esse fator, me parece que está em jogo mais do que um mero artifício narrativo, de colocar um momento de crise e tensão na história, mas há um elemento simbólico muito grande, que significa coisas. Esse é um filme de 1988, e o filme se passa mais ou menos em dois grandes momentos. Primeiro nos anos 1940, quando Toto é ainda pequeno e está aprendendo e convivendo com o Alfredo; e depois nos anos 1980, já, quando Toto retorna para a cidade e acontecem esses outros dois momentos trágicos – morte do Alfredo e destruição do cinema. Me parece que isso simboliza muito claramente algo que estava se passando nos anos 1980 – nos anos 1960 começa, e nos anos 1980 já está relativamente consolidado – que é o processo de mundialização radical e de expansão de uma forma de gestão de bens, recursos, ideias e corpos que se praticava nos Estados Unidos e na Inglaterra para o resto do mundo. E isso causa um choque com culturas tradicionais pelo mundo.
Com isso há vários processos acontecendo. No âmbito da economia, há processos de desindustrialização das grandes potências e financeirização da economia – Estados Unidos e Europa, a partir dos anos 1960, passam por um processo gradual de desindustrialização, com as indústrias indo para outros lugares do mundo. Culturalmente há coisas interessantes acontecendo também, e elas se manifestam de formas diferentes mas ainda próximas nos Estados Unidos e na Europa. As vanguardas artísticas que apareciam como forma de ruptura com um establishment_cultural na primeira metade do século XX – e aí a gente tem de toda a sorte, desde os movimentos mais antigos, da virada do XIX pro XX, como o impressionismo, expressionismo, até posteriores como o dadaísmo, o próprio futurismo, o cubismo, e todos os ismos, as vanguardas, todos os movimentos artísticos e intelectuais de _manifestos; a grande era dos manifestos na Europa nessa primeira metade do século XX ,que ficou conhecida como o modernismo. Esse povo dessa primeira metade do século XX, no final dos anos 1950 e já nos anos 1960, passam a se tornar o próprio establishment. Não há mais nada particularmente novo que eles representam. Eles já representam a cultura estabelecida, já ocupam o lugar da autoridade, a posição dos professores universitários, por exemplo, e assim por diante. Na Europa e nos Estados Unidos este é o caso. E já há com isso também o nascimento de uma nova geração, ou de novas gerações, que se voltam contra essa cultura estabelecida. E isso se manifesta muito claramente nos anos 1960 com as ondas de movimentos estudantis e operários das quais talvez Maio de 1968 na França, em Paris, seja o ícone. Maio de 1968 representa toda essa nova geração que se põe contra uma forma de fazer mundo, num sentido muito lato, de fazer política, de fazer arte etc., que era vanguarda no início do século mas que se tornou kitsch (para usar a expressão do crítico de arte americano Clement Greenberg, com a oposição entre vanguarda e kitsch). Enfim.
Nesse caldo dessa nova cultura que era emergente nos anos 1960, se consolida nos anos 1970 e, digamos, se estabiliza nos anos 1980, do qual eu gostaria de propor, como forma de interpretação, que Cinema Paradiso é um representante, há um traço característico, que é esse, novamente, da nostalgia com o passado e a impossibilidade de pensar o presente. Eu acho que isso fica bem claro, de novo, com o final, com as últimas cenas de Cinema Paradiso. Reconstituindo novamente: o fim de Cinema Paradiso é instrutivo – se está destruindo o prédio do cinema. E aqui é óbvio, o prédio do cinema representa as relações culturais estabelecidas nisso que nós poderíamos chamar, com Hegel, de uma eticidade tradicional – quer dizer, a multiplicidade de relações que acontecem no dia-a-dia, que vão se cristalizando, e que não dependem de uma gramática abstrata, padronizada, universalista, como sempre quis o liberalismo dos países do norte, que é representada não só no cinema em si, mas na praça. Aquela praça é onde circulam as pessoas, onde se dão as relações, onde se criam intrigas, onde as pessoas se reúnem para conviver.
E nesse momento aí dos anos 1960 aos anos 1980 o que acontece, internacionalmente – primeiro nos países da periferia da Europa e depois na periferia do mundo. O que acontece nessa janela de tempo é a entrada de uma nova lógica de gestão de coisas, uma nova lógica do mundo, que é a lógica neoliberal, se quisermos. Uma certa lógica que no âmbito econômico é a do capitalismo neoliberal, no âmbito político é a do liberalismo. E no campo cultural, nós poderíamos dizer, é o pós-modernismo – aquele momento em que a era dos manifestos, do início do século XX, acabou. Os manifestos se tornaram o_establishment_, e a forma de representação cultural que começa a nascer passa a abandonar, em suma, um horizonte revolucionário. Esse talvez seja o grande elemento. Não há mais, no horizonte, a possibilidade da revolução. A revolução é descartada como palavra de ordem. E aqui eu estou falando muito indistintamente sobre os âmbitos político e cultural, ou artístico, se a gente quiser, porque esses âmbitos se imbricam com uma proximidade muito grande.
* * *
Há outros elementos que a gente poderia ainda discutir. Tem uma quesão moral interessante no tema da nostalgia. Quando Toto volta para Giancaldo adolescente, Alfredo diz: vai-te embora e nunca mais volta. “Não cede à nostalgia!” E o que acontece é que Toto retorna, e quando retorna se sente cobrado por um passado que vem assombrar ele – a mãe dizendo que ele não deveria ter avisado que era apenas uma hora de avião para chegar até lá, a relação de reverência que os velhos moradores têm com ele etc. A culpa por ter deixado a pequena cidade para trás para ganhar a vida na cidade grande. Tema absolutamente universal.
Segundo, tem toda a questão do processo de criação da ideia da cidade pequena, que talvez seja algo que nunca tenha existido. Jameson fala disso comentando Philip K. Dick, não lembro qual livro, que se passa numa cidadezinha americana nos anos cinquenta, e discute a própria criação dos “anos 50″, isto é, da década enquanto época, que quando observada nostalgicamente não tem, muitas vezes, nada a ver com os anos de 1950. Os moradores de uma cidadezinha nos anos 1950 não necessariamente se viam como moradores de uma cidadezinha nos anos 1950 – esses estatutos são muito mais retrospectivos, narrativos se quisermos.
O Jameson tem uma citação instrutiva: “[…] Esses filmes [de nostalgia] podem ser lidos como sintomas duplos: eles mostram um inconsciente coletivo no processo de tentar identificar o seu próprio presente ao mesmo tempo que iluminam o fracasso dessa tentativa, que parece se reduzir à recombinação de vários estereótipos do passado” (Jameson, 1991, p. 296).
Essa é praticamente a descrição da cena final de Cinema Paradiso. A forma do nosso protagonista de lidar com o momento trágico – e a tragédia aqui é principalmente, mais importantemente, a derrubada do Cine Paradiso – é totalmente retrospectiva: observando, colecionando diante de si, imagens de um passado morto. Porque já está totalmente, completamente impedido de pensar num futuro novo.