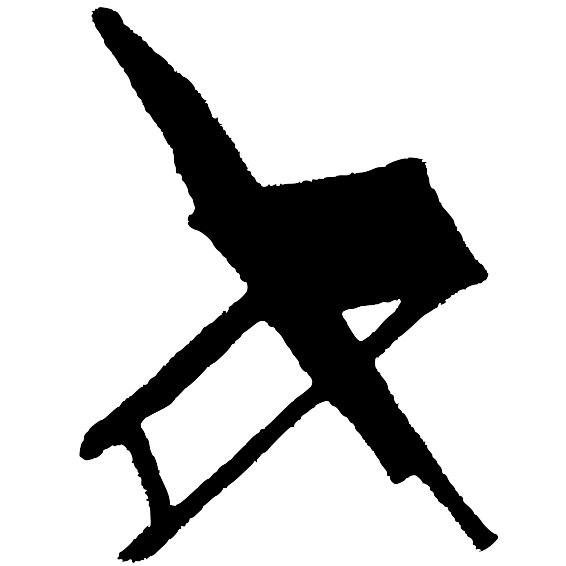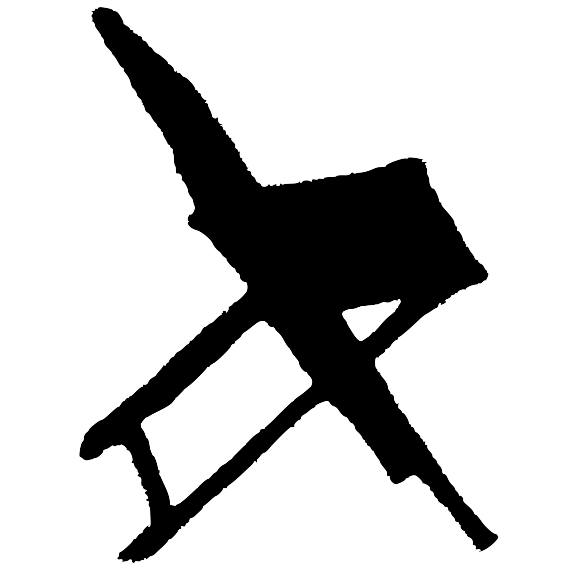Falar deste espetáculo é um desafio. Quando saí do teatro do Sesc no último dia 5, minha amiga Betina me perguntou: “o que achou?” Minha resposta foi: acho que podemos conversar.
A peça da Cia Stravaganza, de Porto Alegre, apresentada agora no Sesc Palco Giratório 2018, fala do presente e do futuro, da tecnologia, da subjetividade, de como as coisas já não são mais as mesmas, de como as pessoas se comportam de forma diferente e de como nos sentimos em relação a isso tudo. Trata-se de uma colagem de experiências e reações à vida no capitalismo tardio.
No palco há um mar de sacolas plásticas, mais alguns objetos plásticos aqui e ali, tudo delimitado na frente e aos lados por uma lona plástica transparente e atrás por um ciclorama onde se projetam diferentes imagens em diferentes momentos. Na maior parte do tempo, as imagens evocam a lembrança de ondas virtuais – movimentos senoidais em uma textura acinzentada que acontecem numa espécie de praça virtual. O cenário nos desloca de um lugar em que espaço e tempo sejam claramente definidos, e nos aproxima dos não-lugares da hipermodernidade: um shopping center, talvez, às vezes mais parecido com um aeroporto, até pelo o anúncio no sistema de auto-falantes constantemente sendo disparado, um espaço alternativo de renderização 3D do universo, uma internet física. Não se sabe.
As cenas que se sucedem não se relacionam necessariamente com a anterior ou a posterior. Os personagens não são claramente definidos. Não há propriamente uma narrativa no sentido aristotélico. A composição das cenas está mais próxima da colagem. Espalhem Minhas Cinzas na Eurodisney trabalha formalmente, portanto, com o mote que também explora conteudisticamente. Logo no início do espetáculo, dois atores dividem o palco e o texto. Falam, alternadamente, com o espectador e um com o outro. Há o uso de microfones – não só na primeira cena mas no decorrer do trabalho –, e as falas são muitas vezes parcialmente interrompidas umas pelas outras.
Fala-se a um público muito claro e transita-se entre um tom evangelista ressentido e outro mais abertamente alarmista: a natureza está sendo tomada pela tecnologia; aquele lago pristino agora está sendo invadido por construções; não há mais espaço para trepar no mato, para pescar no fim de semana; não sabe-se mais se o estabelecimento comercial em que se está é uma loja de sapatos, um bar ou uma festa de música eletrônica; as pessoas se encontram para uma noite de sexo casual sem trocar nenhum afeto; uma floresta parece menos real do que a Eurodisney.
O ponto é essencialmente esse, apresentado poeticamente de formas mais ou menos diversas, dentro da mesma estética futurista-barra-deslocada do mundo real. O sofrimento, vale dizer, é real. Está se tocando aqui em uma sensação muito e cada vez mais comum nas sociedades de massa: a de que ao mesmo tempo precisamos e não conseguimos fugir do mundo virtual para algo que nos lembre uma ideia de natureza ou de originalidade autêntica. De que a vida quotidiana nos torna robôs – números e dados feitos para serem computados, compartilhados, vigiados e armazenados, e que com anos de anestesiamento, os números e dados se tornam mais reais e atraentes do que, sei lá, um pássaro voando, o vento batendo numa árvore.
A exploração poética desse sentimento frequente na vida metropolitana não é particularmente nova, e também não precisa ser. A questão que pode incomodar quem se relaciona com o tema, porém, é de certa forma dupla. Em primeiro lugar, há uma opção pelo uso explícito do modo discursivo para tratar da questão em jogo. Há sempre a articulação racional e clara de uma concepção de mundo – sempre também assentada sobre pressupostos normativos, sobre se esse mundo é bom ou ruim, sobre se deveria ser como é ou não. Quando se opta por esse tipo de exploração discursiva e lógica dos temas dentro de um ambiente cênico, o risco que se corre é do trabalho ser recebido em termos igualmente lógicos e discursivos, de forma que o que sobra para o espectador é refletir sobre o que foi dito, muito mais do que ser sensivelmente afetado por como o que foi dito foi dito (espero que eu ainda esteja sendo claro).
Digo isso porque atrás de cada afirmação sobre a natureza inverídica e inautêntica da nossa realidade social parecia haver um apelo velado por um retorno a uma situação anterior, um estado puro e primitivo, onde as pessoas eram boas, as relações eram autênticas e o mundo era feito de água, ar, terra e fogo, e não aço, concreto, asfalto e vidro. Nada disso era dito, claro, mas ficava implícito pela forma séria com que os temas eram tratados. Não havia nada da ironia pós-moderna com que as questões da vida na sociedade pós-industrial normalmente aparecem na produção poética. Além disso tornar o discurso essencialmente mitológico (o apelo a um momento in illo tempore, naquele tempo, mítico e original), em alguns momentos pode aproximar o espetáculo a um gosto bastante conservador – o mesmo que se levanta contra o “déficit moral” da sociedade contemporânea, a “falta de valores” dos jovens, as práticas que “no meu tempo” eram diferentes, e assim por diante.
Em alguns momentos notei o que julguei ser uma tentativa de tratamento formalista e abstrato da questão: em uma cena, por exemplo, um ator-personagem (a aproximação do estilo discursivo, apesar dos demais elementos cênicos, contribui para borrar essa distinção entre um e outro) entra em cena com uma trilha sonora etérea, movimentando-se de acordo com uma partitura corporal quase robótica, que pode aludir à dança de Merce Cunningham, para no fim chegar até o microfone de um dos lados do palco e recitar alguma versão do discurso que conduzia o espetáculo inteiro. As tentativas de abstração formal, portanto, acabavam sempre caindo em uma literalidade simples e, novamente, discursiva, lógica. Essa divisão é um tanto arcaica, mas é plenamente empregável aqui: houve um descompasso entre a forma e o conteúdo.
A constituição de um drama por colagem é por si só um desafio. Como foi dito no palco e projetado na tela, a sensibilidade pura é uma função do espectador – o criador não opera em fluxo de consciência, está sempre com todos os olhos abertos, e nada lhe é acidental. O desconforto do espectador, no fim das contas, não deixa de servir ao tema: no meio da inautenticidade da vida quotidiana, talvez o teatro mantenha-se como espaço em que o público pode se sentir autenticamente desconfortável.